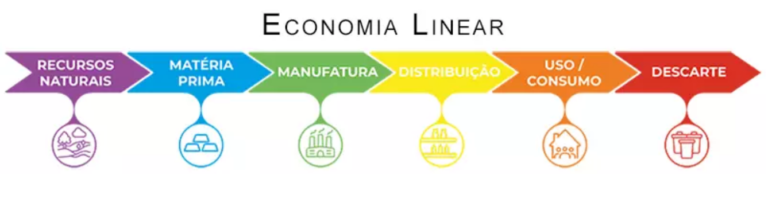A ACUMULAÇÃO PERVERSA DO CAPITAL
 Afirma-se que o capital cria riqueza. Isto é muito simplório: uma pilha de dinheiro acumulado não cria coisa alguma. O que cria riqueza é o trabalho e é em torno dele que a sociedade deve se organizar. Os provedores de capital tendem – isto sim – a avocar para si a maior parte da riqueza gerada pela economia.
Afirma-se que o capital cria riqueza. Isto é muito simplório: uma pilha de dinheiro acumulado não cria coisa alguma. O que cria riqueza é o trabalho e é em torno dele que a sociedade deve se organizar. Os provedores de capital tendem – isto sim – a avocar para si a maior parte da riqueza gerada pela economia.
As organizações são instituídas para maximizar retorno aos seus investidores. Assim também o era na lei da terra, que se fundamentava no direito divino da aristocracia. No mundo de hoje a propriedade do capital é análoga ao que era a propriedade da terra. É este o paradigma dominante do mundo dos negócios, sobre o qual não há controvérsia, como se fosse uma verdade absoluta, incontestável. É o direito divino do capital!
Que contribuição têm os acionistas que justifique a extraordinária lealdade que lhes é conferida pelo mundo corporativo? Alguém dirá: eles correm o risco da atividade econômica; eles investem o seu dinheiro nos negócios, o que permite que as organizações cresçam e prosperem.
Tal afirmativa não é predominantemente verdadeira. Somente uma parcela mínima do capital investido vai para a organização. O grosso do capital investido vai para a especulação financeira. Os investimentos em ações beneficiam as organizações somente quando são feitas novas subscrições, o que para a maioria é um evento bem raro.
O mercado de ações funciona como o mercado de carros usados. O fabricante do veículo só ganha quando vende um carro novo. O dinheiro obtido pela venda do carro usado vai para o seu proprietário. Por analogia, as organizações só obtêm recursos quando vendem ações novas. As ações já existentes circulam na especulação do mercado financeiro, beneficiando apenas os que especulam. E, assim, a grande maioria das ações circulantes são especulativas, não gerando qualquer ganho às organizações produtivas.
O risco produtivo na construção do negócio foi feito pelos empreendedores e pelos investidores originários, que, efetivamente, acreditaram no sucesso do empreendimento. Estes de fato contribuem com os seus recursos para criar a verdadeira riqueza. Mas os que compram ações de segunda mão, de terceira ou de vigésima mão, como na compra e venda de um carro usado, também correm risco, mas não o risco do negócio produtivo, mas o risco especulativo que correm entre si, tentando passar a perna uns nos outros como verdadeiros jogadores de pôquer, na roda-viva de uma jogatina financeira sem fim.
A má distribuição da riqueza, as iniquidades produzidas pelas macrocorporações, a poluição do meio ambiente e todas as demais mazelas dos tempos presentes são apenas sintomas, febres e calafrios de uma economia pervertida, que não está, primacialmente, a serviço do bem comum. A doença subjacente decorre da primazia conferida aos acionistas. A organização coloca toda a sua energia para garantir lucros crescentes aos acionistas, pouco se importando com quem paga o preço de tal privilégio.
As organizações, de fato, detêm excessivo poder no mundo globalizado. O que não se percebe é o poder invisível a que a riqueza dos acionistas majoritários submete as organizações. No interesse de tornar o rico mais rico ainda, as organizações terminam por impor a todos nós verdadeiros tributos privados decorrentes de sua crescente taxa de ganância. E, assim, o poder financeiro constituído pelos acionistas transforma-se numa aristocracia econômica. A contraditá-la é preciso que surja incontinenti uma nova democracia econômica.
As organizações concentram-se inexoravelmente, mais do que nunca, no ganho dos acionistas, mesmo que tal signifique a exclusão de todos os demais valores que lhe possam ser contraditórios, sejam eles dos empregados, do meio ambiente ou da participação acionária socializada.
O divórcio de Jack Welch, festejado CEO da GE, ilustra o privilégio exacerbado que se confere aos acionistas e aos seus principais representantes no mundo dos negócios. Considerado por muitos o maior executivo do século XX, por ter recuperado e reorientado a empresa, mesmo tendo demitido mais de 180 mil funcionários, o episódio suscita, de forma pública, os valores astronômicos envolvidos numa aparente simples separação conjugal. O processo revelou que a fortuna de Welch é de U$ 500 milhões e que a sua renda mensal é de U$ 1,4 milhão.
A crise econômica mundial de 2008, por exemplo, iniciada com falta de liquidez das subprimes no mercado imobiliário americano, escandalizou a opinião pública de todo mundo ao aportar remunerações milionárias absurdas aos maus gestores dos bancos, seguradoras e corretoras em falência, tudo sustentado pelo erário público.
Seríamos capazes de imaginar uma economia globalizada em que as organizações pertençam às pessoas que nelas trabalhem? Em que do conselho diretor seja requerido o exercício amplo de obrigações fiduciárias a todos os que contracenam com a empresa, dos empregados à comunidade, como aos proprietários ausentes?
Quando julgamos que uma organização se houve muito bem no balanço que apresenta, queremos dizer que os seus acionistas obtiveram bons ganhos. Não consideramos que, muitas vezes em contrapartida, a comunidade em que se localiza a fábrica fechada para garantir melhores resultados de desempenho foi devastada com a perda de empregos e de renda, que o downsizing possa ter massacrado os empregados restantes por sobrecarga de trabalho. E ainda dizemos: a organização está muito bem. E tais mazelas não aparecem nos ditos balanços sociais, hoje tão em moda nas organizações.
Os escândalos contábeis de empresas em todo o mundo, a começar, por exemplo, com a Worldcom, a Erron, a Parmalat, o Lehman Broters, a AIG e a Merrill Lynch são ilustrativos sobre o quão obsoleto está o atual modelo empresarial prevalecente na economia mundializada. A cobiça dos dirigentes voltada para os interesses exclusivistas dos acionistas é uma das facetas disfuncionais da excessiva concentração de poder nas mãos de tão poucos.
Não conseguimos avaliar a transferência dos ganhos de produtividade da organização para o aumento dos ganhos dos empregados como o indicador de sucesso da organização. Ao contrário, os ganhos dos empregados são vistos como perdas ou gastos para a organização. E isto revela o conceito inconsciente de que os empregados não são verdadeiramente parte da organização. Eles não têm qualquer direito sobre a riqueza que criam com o seu trabalho, nada a dizer na governança corporativa, nenhuma razão para participar com voto do conselho diretor. Eles não são cidadãos da sociedade corporativa, mas apenas pessoas submetidas à sua autoridade. Como no império romano, não são sequer patrícios com direito a voto, mas apenas integrantes da força de trabalho. Contraditoriamente, é verdade, são eufemisticamente chamados de parceiros ou colaboradores.
Pensam que isto seja uma lei natural do mercado. É mais precisamente o resultado da distorção do conceito de estrutura da governança corporativa, já que viola os princípios do verdadeiro liberalismo econômico.
No livre mercado todos negociam para obter o que puderem, mas ficam com o que ganham. Nas organizações corporativas, um pequeno grupo fica com o que os demais obtêm como produto de seu trabalho. Já que os acionistas têm a propriedade dos meios de produção, isto é, são os donos da empresa, a eles é permitido contribuir muito pouco, mas ficam com a parte do leão. E assim os ricos ficam cada vez mais ricos enquanto a renda dos empregados fica estagnada ou se degrada.
Toda a história do capitalismo até agora o faz intrinsecamente um sistema a serviço do capital. Até os primórdios do século XX, os governos serviam aos interesses das monarquias. Não foi necessário livrar-se do governo para se livrar da monarquia. Bastou apenas mudar as bases em que a soberania dos governos se fundava. Nós devemos agora fazer algo semelhante com as organizações, assegurando direitos compartilhados de soberania econômica entre a comunidade, os trabalhadores e os proprietários dos bens de capital. É preciso agora, portanto, derrubar os privilégios absurdos da aristocracia financeira, o que se fará através do desenvolvimento de uma nova ordem econômica mundial essencialmente democrática.
O que temos tido até hoje é o modelo de um capitalismo aristocrático. Devemos abraçar uma nova visão de capitalismo democrático, não mais como um sistema a serviço exclusivo dos proprietários do capital, mas um novo sistema em que a todas as pessoas seja permitido compartilhar os bens da riqueza, de acordo com a sua produtividade e participação, e no qual o natural capital ambiental e da comunidade seja liminarmente preservado.
Os benefícios do capitalismo globalizado não são equitativamente distribuídos no conjunto da população e das nações, tornando ainda mais desigual a distribuição da riqueza. Duas classes emergentes surgem da globalização econômica: os novos milionários empreendedores (os de tecnologia de ponta e os financistas) e o novo proletariado recém-egresso das zonas rurais, absolutamente incapaz de conviver na sociedade do conhecimento.
É a crise da exclusão social que se agrava intestinamente nas cidades de todo o mundo. As disparidades econômico-sociais serão cada vez mais gritantes, enquanto o terrorismo buscará nas massas desvalidas o seu exército de adeptos, e utilizará e desfrutará de conhecimentos e acesso a tecnologias inimagináveis, a custos decrescentes.
É preciso uma nova ordem econômica mundial radicalmente democrática, em que o pobre compartilhe dos ganhos do crescimento e o rico partilhe também dos ônus das crises. É simplista – e porque não dizer hipócrita – a noção de que a melhor forma de ajudar o pobre é fazer a economia crescer. A distribuição de renda não pode ficar à espera da geração de riqueza, mas se efetivar concomitantemente. A hipocrisia se assenta na afirmação falsa de que só se pode distribuir o que se produz, que é preciso produzir antes para distribuir depois.
O desemprego não deve ser encarado simplesmente como uma estatística, uma contagem do número de vítimas não intencionais produzidas pela luta contra a inflação ou pela modernização nos processos de trabalho nas organizações. Os desempregados são seres humanos, com família, vidas de dedicação ao que fazem, com sonhos e esperanças destruídas pelas políticas econômicas efetivamente impostas pela atual ordem econômica mundial, absolutamente insensível aos dramas humanos ocasionados aos países periféricos.
Finalmente, a atual crise econômica mundial parece sensibilizar os grandes mandatários das nações para a evidência de que os organismos internacionais, “soi-disant” de ajuda, há muito deixaram de servir aos interesses econômico-sociais mundiais – razão de ser de suas existências – para passarem a servir exclusivamente aos interesses financeiros internacionais concretizados na aristocracia dos acionistas majoritários das corporações empresariais. É a ideologia de mercado levada ao fundamentalismo: Os mercados não falham, os governos sim.
A expressão mais viva da degradação da dignidade e da autoestima do trabalhador está na sua exclusão do processo de desenvolvimento. O desemprego é a expressão máxima dessa degradação, por dar absoluta concretude à exclusão social. Ninguém deve ficar excluído da construção social. Todos têm o direito de nela estar e nada há mais degradante do que o sentimento de exclusão do mercado de trabalho. O maior malefício do desemprego não é de ordem física ou material, mas de ordem moral. Não apenas pela aflição e desespero que ocasiona, mas pelo ódio, rancor e medo que suscita entre os desempregados. A ação de gestão no mundo online não sensibiliza diretamente os responsáveis pelas decisões em função do distanciamento que impõe aos que são afetados pelos resultados do que se decide. É como na guerra moderna: quem aperta o botão da bomba não tem qualquer contato com as suas vítimas. Assim também no mundo do trabalho: aqueles que tomam as decisões impiedosas de demissão não chegam sequer próximo do cotidiano da vida dos demitidos.
Produzir a ruptura ou a descontinuidade dessa trajetória histórica do capitalismo, prenhe de iniquidades, não deve ser a resultante de um fatalismo moralista, mas um ato de inteligência que conduza a humanidade a um novo marco civilizatório de convivência, com maior democracia, fraternidade e justiça social. Nas crises vicejam as oportunidades. O atual momento mundial oferece condições objetivas invulgares para a demarragem desse novo tempo, em que todos devem construir e muito se empenhar por merecê-lo. Não pode ser apenas a decisão do G7 ou do G20, mas a busca engajada e comprometida de todos. De um mundo originalmente dominado pela monarquia e pela aristocracia, a civilização do Século XX, e remanesce neste primeiro quartel anos do Século XXI, concretizou o novo mundo da democracia, com formidáveis avanços. Mas temos democratizado apenas os governos, a dimensão política da voz e da vez do cidadão. É impostergável agora efetivar a democracia econômica! A dificuldade de se limitar a influência da riqueza sugere que ela deva ser limitada. Uma sociedade democrática não pode mais tolerar a acumulação ilimitada do capital. A igualdade civil e social pressupõe uma equitativa igualdade econômica. É claro que o princípio da igualdade estará bem melhor atendido não por um igualitarismo naive de renda, mas pela imposição de limites ao imperialismo do mercado que transforma todos os bens sociais em mercadorias. O que está em questão é o controle do dinheiro fora de sua esfera, já que este se infiltra com poder e influência não só na primazia dos bens econômicos, mas decisivamente na obtenção de privilégios sociais e no controle dos direitos cívicos.
Destruição Criadora
Os princípios fundamentais do mercado repousam na autoconfiança, no trabalho árduo e na competição.
Os defensores da livre economia não se cansam de instigar as nações a abrirem os seus mercados à livre concorrência e a derrubarem as barreiras protecionistas que, alegam, dificultam e até impedem a livre circulação da riqueza.
Por coerência, a mesma lógica de argumentação deveria ser adotada para também instigar os acionistas dos grupos empresariais a levantarem as barreiras legais, igualmente protecionistas, que lhes asseguram tratamento tão privilegiado na atual ordem econômica.
É preciso que se admita, até por senso comum, que também os acionistas devam se abrir à livre competição de mercado com os empregados das organizações. Se a contribuição dos acionistas for efetivamente decisiva, certamente será prontamente reconhecida pelas forças de mercado. Se, no entanto, não for relevante – como claramente se evidencia no mais das vezes – não haverá razão que justifique a manutenção dessas proteções legais aos acionistas, a não ser sustentar privilégios indevidos, incompatíveis com o atual estágio civilizatório da humanidade.